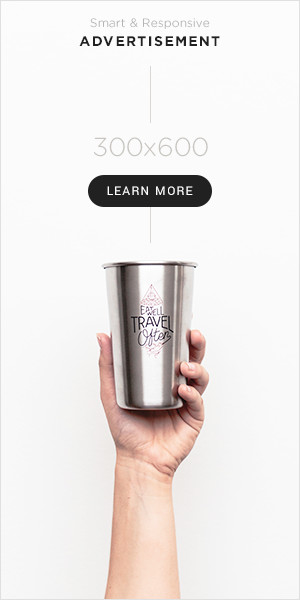Com o retorno de Yuval Harari ao Brasil, decidi reler Homo Sapiens. Estou no capítulo em que ele descreve o surgimento da escrita, sistema para armazenar informações através de símbolos e passo crucial para o desenvolvimento do ser humano.
Foi justamente ali que me perguntei: qual terá sido o primeiro relato sobre o câncer de mama na história? A resposta me levou a uma viagem fascinante: os primeiros registros de câncer de mama nasceram quase junto com a escrita.
Apesar de incerto, por volta de 3.500 a.C., nos papiros egípcios, contemporâneos aos primeiros registros escritos, já havia descrições de tumores mamários. O Papiro Cirúrgico de Edwin Smith e o Papiro de Ebers, dois dos principais registros médicos da antiguidade mencionam massas palpáveis no seio, incuráveis e sem tratamento conhecido em 8 pacientes da época. Desde o início, portanto, o câncer de mama foi uma doença visível, documentada e, de certo modo, simbólica: o corpo registrando, em si, a história do conhecimento médico.
Séculos depois, Hipócrates, o pai da medicina ocidental, acreditava que o câncer era causado por um desequilíbrio entre os “humores” do corpo – em especial, o excesso de “bile negra”. Sua conclusão: melhor não operar, pois o risco seria maior que a própria doença. Em 200 d.C., Galeno, talentoso médico e filósofo, manteve a teoria da bile negra, mas inaugurou a era cirúrgica ao defender a retirada dos tumores.
O tempo passou, e durante a Idade Média pouco se evoluiu. A ciência ficou silenciosa até o século XVII, quando René Descartes, Olof Rudbeck e Franciscus Sylvius propuseram a teoria linfática, rompendo com a explicação mística dos “humores”. Nessa época, observações como as de Bernardino Ramazzini, que notou maior incidência da doença entre freiras do que entre mulheres casadas, introduziram a ideia de fatores de risco e relação com a vida reprodutiva, um prenúncio da epidemiologia moderna.
No século XVIII, o médico francês Henri Le Dran trouxe um salto conceitual: o câncer de mama era uma doença localizada, e a cirurgia poderia impedir sua progressão. Johannes Müller, patologista alemão aprofundou a visão celular em 1838: tumores surgiam de células normais que se tornavam anormais. Décadas depois, William Halsted consolidaria a mastectomia radical como padrão, removendo mama e linfonodos, enquanto Thomas Beatson observava a influência hormonal, lançando as bases da terapia endócrina.
O século XX transformou o cenário. Vieram a radioterapia, a mamografia e os primeiros ensaios clínicos randomizados. Pesquisadores como Bernard Fisher provaram que o câncer de mama era sistêmico, não apenas local, abrindo caminho para tratamentos menos invasivos. Nos anos 70, surgiram as primeiras campanhas de conscientização e, nos 80 e 90, o laço rosa se tornou um símbolo global. O Tamoxifeno revolucionou o tratamento dos tumores hormônio-positivos, e a descoberta dos genes BRCA1 e BRCA2 trouxe a genética para o centro da oncologia.
Hoje, estamos na era da biologia molecular e da medicina personalizada. O câncer de mama é estudado em nível genético, com testes que identificam mutações e orientam decisões sobre prevenção e tratamento. O sequenciamento de nova geração, por exemplo, permite escolher terapias-alvo mais eficazes, enquanto exames genômicos avaliam risco de recorrência e evitam quimioterapias desnecessárias. A medicina de precisão substitui o paradigma da doença única pela individualidade biológica de cada paciente.
Mas, mais do que um avanço da ciência , essa trajetória é um espelho da própria humanidade. Da curiosidade que nos move, do registro que nos permite aprender e da compaixão que dá sentido à ciência. Do papiro egípcio à genômica, cada etapa reflete nossa capacidade de observar, registrar e transformar o conhecimento em cuidado.
Ao celebrar o Outubro Rosa, olhamos para uma história que continua sendo escrita. Agora com dados, inteligência artificial e genomas, mas com o mesmo propósito ancestral: compreender para curar.
*Leonardo Vedolin é vice-presidente médico da Dasa