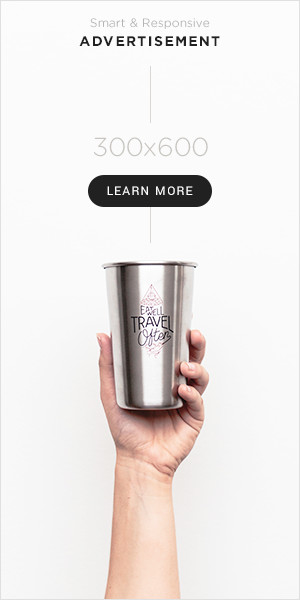Quando o presidente russo Vladimir Putin afirmou, em uma visita a Pequim, que múltiplos transplantes de órgãos poderiam fazer alguém “rejuvenescer” e viver até os 150 anos, a ideia soou como ficção científica.
Mas a declaração coincidiu com avanços reais: dias antes, pesquisadores haviam identificado uma molécula capaz de reduzir uma das principais complicações em transplantes de fígado, aumentando a sobrevida dos órgãos doados.
Segundo o The Conversation, a descoberta ilustra bem o dilema entre a promessa e os limites da medicina de transplantes. Embora a ciência tenha ampliado as chances de salvar vidas ao substituir órgãos doentes, o sonho de restaurar a juventude trocando partes do corpo continua mais próximo do mito do que da prática médica.
De glândulas de macaco ao “sangue jovem”
A ideia de rejuvenescer por meio de transplantes não é nova. No início do século 20, cirurgiões europeus chegaram a implantar glândulas de macaco em homens ricos, acreditando que isso restauraria a vitalidade sexual e retardaria o envelhecimento. Décadas depois, o conceito ressurgiu em versões mais sofisticadas — e igualmente controversas.
Um dos exemplos recentes é o do empresário e biohacker Bryan Johnson, conhecido por investir milhões de dólares em terapias de sangue e plasma para tentar reverter o envelhecimento biológico.
A prática se baseia em estudos com parabiose em camundongos, em que animais jovens e velhos tiveram seus sistemas circulatórios conectados. Os mais velhos mostraram ganhos temporários em força muscular e cognição, mas os efeitos nunca foram comprovados em humanos.
Testes clínicos com transfusões de plasma de doadores jovens não apresentaram resultados significativos e levantaram fortes críticas éticas. Em 2019, a FDA — agência reguladora dos Estados Unidos — classificou a prática como “não comprovada e potencialmente perigosa”. Ainda assim, a fantasia de engarrafar a juventude persiste.
Transplantes prolongam a vida, mas não a redefinem
Na medicina legítima, transplantes de órgãos e tecidos continuam sendo uma das ferramentas mais poderosas para prolongar a vida. O procedimento substitui um órgão em falência e pode devolver anos de sobrevida a pacientes graves. No entanto, mesmo quando bem-sucedidos, esses transplantes exigem imunossupressores por toda a vida, o que deixa o paciente vulnerável a infecções e certos tipos de câncer.
A fragilidade aumenta com a idade: tecidos envelhecidos se regeneram mais lentamente, e o risco de rejeição cresce. Estudos mostram que as chances de sucesso caem acentuadamente em transplantes múltiplos ou repetidos em pacientes idosos. Por mais que a tecnologia avance, não há cirurgia capaz de redefinir o relógio biológico.
Como resume o artigo do The Conversation, transplantes “podem estender a vida, mas não redefini-la”. O custo biológico e o desgaste do corpo são inevitáveis, e a ideia de um “upgrade humano” permanece uma ficção sedutora.
Escassez, ética e os limites da ciência
Além das barreiras médicas, a escassez de órgãos é um dos principais desafios globais. A lista de espera para transplantes é longa em quase todos os países, e o desequilíbrio entre oferta e demanda alimenta um mercado negro perigoso, em que órgãos são traficados de populações vulneráveis e vendidos a pacientes ricos.
Para contornar a falta de doadores, a ciência tem explorado caminhos como xenotransplantes — o uso de órgãos de animais como porcos — e o cultivo de organoides em laboratório, versões miniaturizadas de órgãos humanos. Apesar dos avanços, ainda não é possível criar órgãos totalmente funcionais e prontos para transplante.
Essas fronteiras levantam questões éticas profundas: se um órgão saudável e compatível estivesse disponível, quem deveria recebê-lo — um jovem ou um idoso? Em um sistema já marcado pela escassez, usar órgãos doados para tentativas de rejuvenescimento seria eticamente indefensável.
O artigo lembra ainda que há um limite intransponível: o cérebro humano. Ele define identidade e consciência, mas é o órgão mais vulnerável ao envelhecimento. Mesmo que um dia todos os outros órgãos possam ser substituídos, o cérebro — e, com ele, a memória e o “eu” — continua além do alcance da medicina regenerativa.