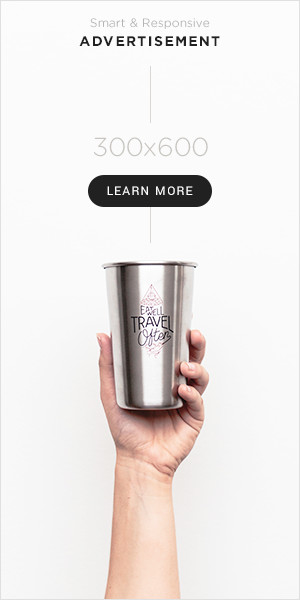Em Belém, onde o tempo é regido pelas cheias do rio, e o ar denso e quente lembra a todo instante das mudanças climáticas, uma nova geração de “herdeiros” das pautas ambientais está marcando presença na COP30, a cúpula ambiental internacional que está acontecendo na capital paraense.
São os netos de Chico Mendes e Raoni Metuktire, líderes que, nos anos 1980, tornaram-se ícones na luta contra a devastação.
Angélica Mendes, neta do seringueiro e ambientalista Chico Mendes, e Matsi Waura Txucarramãe, neto do cacique Raoni Metuktire, fazem parte da Aliança dos Povos pelo Clima, lançada em setembro de 2024.
O novo grupo é herdeiro direto da Aliança dos Povos da Floresta, iniciativa de Mendes, Raoni, Ailton Krena e Paulinho Paiakan.
Criada em 1984, a organização uniu indígenas, seringueiros e ribeirinhos para influenciar na escrita da Constituição de 1988 e criar as primeiras Reservas Extrativistas (RESEX, um tipo de unidade de conservação que permite às populações locais a exploração de recursos naturais, sob determinadas regras).
Desde o início da COP30, a Aliança dos Povos pelo Clima está realizando em Belém ações de sua campanha “A gente COBRA: Financiamento Climático Direto para Quem Cuida da Floresta” — exigindo um melhor direcionamento das verbas de fundos climáticos para comunidades indígenas e tradicionais.
Hoje, os rostos são mais jovens, as ferramentas são digitais, mas várias pautas de fundo continuam as mesmas, segundo dizem seus integrantes — com o acréscimo, agora, das preocupações com as mudanças climáticas.
Angélica e a herança do avô que não conheceu
Angélica Francisca Mendes, 36 anos, leva na certidão o nome de Francisco “Chico” Mendes, o avô que nunca conheceu mas que norteia suas escolhas.
No dia da missa de sétimo dia de Chico, que foi assassinado em dezembro de 1988, a mãe dela, a também ativista Ângela Mendes, soube que estava grávida.
A neta de Chico Mendes nasceu e mora no Acre.
“Cresci ouvindo a história do meu avô. Construí uma espécie de colcha de retalhos da memória dele, juntando relatos da família, dos amigos, livros e documentários,” conta Angélica, que é bióloga e doutora em Ecologia.
Para ela, o avô, além de um ícone da luta ambiental, era uma pessoa “muito especial, com uma força e generosidade que marcaram todos que o conheceram”.
Angélica marcou essa conexão ao tatuar em seu braço a casinha de madeira em Xapuri, no Acre, onde Chico Mendes viveu e foi assassinado. Hoje, o local funciona como um espaço de memória, mas é frequentemente afetado por enchentes.
“Essa casa tem um valor histórico enorme, é um patrimônio para o mundo. Para mim, ela simboliza resistência, pertencimento e memória. É mais do que um espaço físico; é um lugar que conta a história da minha família. A casa é resiliente, enfrenta as cheias do rio, permanece firme”, diz.
A escolha da ciência como caminho profissional também foi inspirada no avô, ela conta.
Uma de suas atividades hoje é o trabalho no Comitê Chico Mendes, em Rio Branco, uma organização fundada em 1988 por companheiros de Chico Mendes e que se dedica à preservação da Amazônia.
Em reuniões com comunidades extrativistas, Angélica diz frequentemente ter escutado de pessoas que conheceram seu avô sobre a importância de ela se preparar “com bastante estudo”.
Para ela, a Aliança dos Povos da Floresta, da década de 1980, foi bem-sucedida ao romper a barreira histórica entre seringueiros e indígenas — colocados como inimigos pelos donos dos seringais, diz a bióloga.
A união desses dois grupos favoreceu a demarcação de terras indígenas e a criação das reservas extrativistas, aponta Angélica Mendes.
“A aliança do meu avô era muito politizada, e vejo isso também nos jovens de hoje. Estamos conectando nossas vozes para exigir respeito e ação concreta. Queremos que os recursos cheguem diretamente às comunidades que cuidam da floresta, dos rios, da terra e do clima”, diz, acrescentando que outra pauta atual é que os financiamentos climáticos cheguem mais diretamente a essas comunidades.
Matsi: ‘Alguns passarinhos estão sumindo’
Para os indígenas Mebêngôkre ou Kayapó, não existe a denominação de “sobrinho-neto”, apenas filhos e netos.
Por isso, Matsi Waura Txucarramãe, 31 anos, que em outras culturas seria considerado sobrinho-neto de Raoni Metuktire, é em sua comunidade tido como neto do cacique.
Matsi é filho de Megaron Txucarramãe, que Raoni considera filho.
O único filho direto do cacique, Tedje Metuktire, morreu em 2004, aos 35 anos, em uma colisão entre a van em que estava e um caminhão na BR-163, em Nova Mutum, norte do Mato Grosso. Tedje voltava de Brasília, onde tinha ido buscar apoio do governo para suas aldeias, atingidas por enchentes.
Raoni considera Matsi um de seus herdeiros e apoiou a criação da Aliança dos Povos pelo Clima, recebendo os jovens membros do grupo em sua aldeia.
Matsi nasceu, cresceu e vive na Terra Indígena Capoto/Jarina, no Mato Grosso, tendo ligações com as etnias Kaiapó (por parte de seu pai) e Waurá (por parte da mãe, Kamiha Waurá).
Hoje, ele é parte do Mebengokre Nyre, um movimento de jovens indígenas Kaiapó.
Ele também atua como músico e compositor, criando canções que retratam a transição entre a vida na floresta e a cidade, que buscam quebrar estereótipos sobre os povos originários e alertar para a destruição ambiental.
Quando Matsi começou a tocar violão, aos 17 anos, o avô lhe deu força para seguir a carreira artística, aconselhando que a mensagem do seu povo fosse transmitida através da música.
Com mais de 90 anos de idade, o cacique Raoni se tornou um ícone mundial da luta de seis décadas pela proteção da Amazônia.
Em outubro, foi homenageado em Londres pelo Rei Charles 3º e foi entrevistado pelo influente jornal britânico Financial Times.
Raoni começou a ganhar destaque internacional pela amizade com o cantor britânico Sting e uma histórica campanha que contribuiu para a homologação de uma vasta reserva na região do Xingu, em 1989.
“O principal legado do meu avô é a luta pela vida… Quero levar adiante esse compromisso com a justiça, com a preservação ambiental e com a construção de alianças que fortaleçam nossas comunidades”, afirma Matsi.
Para o músico, a nova Aliança dos Povos pelo Clima é a continuidade do sentimento de resistência iniciado há quatro décadas.
“A Aliança dos Povos pela Floresta representava um pedido de respeito à Constituição e aos direitos dos povos originários. Hoje, a Aliança dos Povos pelo Clima é a continuidade desse sentimento, ampliando a luta para incluir os direitos humanos e a proteção do meio ambiente e do clima”, compara.
Matsi observa as mudanças climáticas de perto em seu território.
“Alguns passarinhos estão sumindo. O rio Xingu está secando mais a cada dia, as chuvas são menos frequentes também. Por conta dessas mudanças climáticas, a gente já não consegue saber a data certa da colheita”, descreve, também exigindo que os recursos cheguem diretamente às comunidades.
- COP30, geradores e diesel: como reunião sobre o clima em Belém será movida a petróleo
- COP30: Cúpula do clima ainda faz sentido se Trump e vários outros líderes a ignoram?
Como os nossos avôs
Nos anos 80, os avôs de Angélica e Matsi atuaram em pautas como o combate à grilagem e ao avanço desenfreado da pecuária.
Além da criação das RESEX, outra conquista do grupo foi a inclusão do artigo 231 na Constituição, que reconhece os direitos dos povos indígenas às suas terras.
Quatro décadas depois, Angélica e Matsi observam que o foco mudou para a justiça climática, que busca conectar pautas ambientais às sociais e considerar as desigualdades diante de desafios ambientais.
Mas eles dizem que persiste a necessidade de enfrentar interesses econômicos predatórios. Além disso, afirmam que ainda é preciso agir por mais demarcação de terras indígenas e contra o enfraquecimento das RESEX.
“A gente vê que as coisas mudaram no discurso, mas na prática, a urgência é a mesma,” reflete Angélica.
“É injusto que a Amazônia, com tamanha biodiversidade, que contribui para a regulação do clima e da qualidade de vida de pessoas em tantos lugares do mundo, viva na pele as consequências da emergência climática”.
A bióloga aponta para outra preocupação atual: o êxodo rural da juventude, que deixa as aldeias e seringais em busca de oportunidades nas periferias urbanas.
“Muitos jovens acabam saindo para as cidades em busca de melhores condições de vida, educação e trabalho. Isso acontece porque falta investimento para que a floresta seja uma fonte de renda e qualidade de vida,” explica Angélica.
Em entrevista à BBC News Brasil, a secretária nacional de Povos e Comunidades Tradicionais e Desenvolvimento Rural Sustentável do Ministério do Meio Ambiente, Edel Moraes, concordou que as RESEX passaram por um “processo de enfraquecimento muito grande” durante o governo anterior e que a gestão atual pretende ampliar esse tipo de unidade de conservação.
Moraes destacou que as RESEX podem ser criadas tanto por governos estaduais quando pelo federal.
A secretária anunciou que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está preparando a destinação de florestas públicas para 40 comunidades tradicionais — que podem eventualmente se tornar unidades de conservação, categoria das quais as RESEX fazem parte.
“Vamos destinar o maior volume já visto na história de floresta pública, preferencialmente para povos e comunidades tradicionais”, afirmou Edel Moraes.
O ministério destacou também que, de acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) para o período de agosto de 2024 a julho de 2025, as unidades de conservação da Amazônia registraram o menor índice de desmatamento desde 2008.
Sobre a demarcação de terras indígenas, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) afirmou reconhecer “a necessidade e o imenso desafio da retomada dos processos de demarcação de terras indígenas após período de desmonte estrutural em gestões anteriores”.
A Funai acrescentou que a gestão atual está “se esforçando para acelerar” a identificação e demarcação de terras, tendo criado 34 novos grupos técnicos (GT) para tal, além dos 158 GTs que já estão em campo.
O papel da COP na luta ambiental
A Aliança dos Povos pelo Clima não é uma ONG formal com sede e estrutura fixa, mas uma rede formada por vários coletivos de indígenas, quilombolas, extrativistas e jovens das periferias urbanas da Amazônia.
O grupo recebeu a “bênção” do cacique Raoni em setembro deste ano.
O manifesto da nova aliança, publicado em Mebêngôkre, afirma que as mudanças climáticas já afetam diretamente os territórios: rios secam, espécies desaparecem, a produção de alimentos está ameaçada e modos de vida ancestrais sofrem com o avanço do agronegócio, da mineração, da grilagem e das queimadas.
A aliança afirma ter o objetivo de ser uma “escola, de jovens para jovens, da floresta para a floresta”, dedicando-se ao compartilhamento de conhecimento e fortalecimento das bases comunitárias;
A organização tem parceria do Instituto Raoni e do Instituto Lamparina na comunicação e conta com apoio de doações individuais e de trabalho voluntário.
Entre alguns dos financiadores estão a ONG internacional Climate and Land Use Alliance (CLUA) e o Instituto Cultura, Comunicação e Incidência (ICCI).
Seu foco principal de ação é pressionar os grandes fundos climáticos internacionais, como o Fundo Florestas Tropicais Para Sempre (TFFF), lançado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Cúpula de Líderes em Belém, para que destinem 50% dos seus recursos diretamente aos povos e comunidades tradicionais.
Uma das preocupações da aliança com esse tipo de fundo é que haja burocracia e outros obstáculos para que as comunidades acessem essas verbas.
Além disso, temem que modelos como o TFFF transformem a floresta em mercadoria sem abordar as causas reais do desmatamento.
Edel Moraes, do Ministério do Meio Ambiente, defendeu que a Secretaria Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais participou do desenho do fundo, garantindo a participação das comunidades no TFFF.
De acordo com ela, embora tenha sido determinado que cada país participante do fundo destine no mínimo 20% das verbas diretamente para comunidades e povos indígenas, o Brasil está estudando aumentar esse percentual internamente.
“No caso do Brasil, o nosso compromisso é ir além desses 20%”, disse a secretária, acrescentando que um dos possíveis destinos dessa verba pode ser o programa Bolsa Verde, que já existe e remunera pessoas e famílias que ajam para preservar a natureza.
“Queremos garantir que a maior parte desses recursos chegue na ponta a quem de fato protege a floresta.”
Angélica e Matsi veem as grandes cúpulas e eventos ambientais como a COP30 com ambiguidades: se, por um lado, dão visibilidade a pautas e criam pressão, por outro, são palcos de “falsas soluções” e burocracias que impedem a chegada de recursos.
“Espero que o governo brasileiro tenha coragem de influenciar e marcar essa COP com decisões históricas. Que leve a voz do povo brasileiro, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, pescadores, moradores de periferias e favelas, para dentro das negociações. Precisamos de resultados emergenciais”, cobra Matsi.
*Colaborou Mariana Alvim, da BBC News Brasil em São Paulo